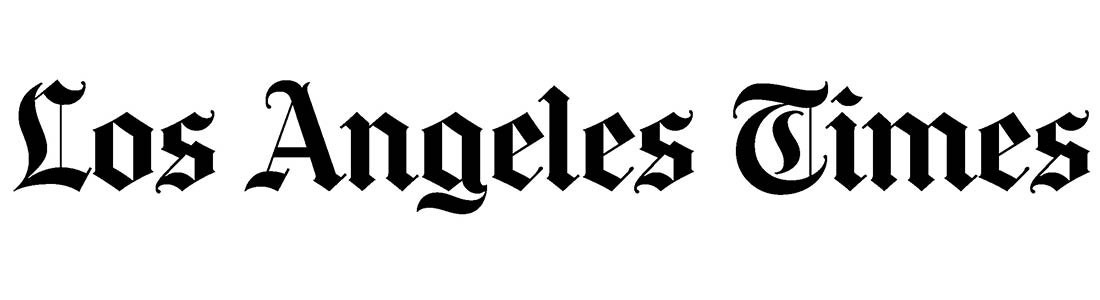Blog da disciplina de Mídias Globais. Aqui você encontrará o conteúdo necessário para a realização do curso. Em caso de dúvidas, entrar em contato com: lleo@puc-rio.br (Luiz Léo) e maripalm@puc-rio.br (Mariana Palmeira)
domingo, 24 de maio de 2020
Local newspapers are dying. Here’s how we can save them
Listen, Watch, Learn: Peru's school system takes to the airwaves
A look at Aprendo en Casa, Peru's education-from-home TV show that covers school curricula for children in lockdown.
quarta-feira, 20 de maio de 2020
“1984”, 31 anos depois

Tradução da RESENHA SOBRE “1984”, escrita por Isaac Asimov


Venho escrevendo uma matéria de quatro partes para o Field Newspaper Syndicate no início de cada ano há anos e, hoje, em 1980, com a aproximação do ano de 1984 o FNS pediu-me uma resenha detalhada do romance de George Orwell, 1984.
Eu relutei. Mal me lembrava do livro e informei-os disso — mas Denison Demac, a adorável moça que é meu contato com a FNS, simplesmente enviou-me uma cópia do livro e disse: “Leia”.
Então o fiz e fiquei absolutamente atônito com o que li. Perguntei-me quantas pessoas que falavam de forma tão confiante do livro realmente o tinham lido; e se leram, se realmente lembravam do seu conteúdo.
Senti que deveria escrever esta crítica, apenas para esclarecer as pessoas. (Me perdoem, mas eu adoro esclarecer as pessoas).


1. A escrita de 1984
Em 1949, um livro chamado 1984 foi publicado. Foi escrito por Eric Arthur Blair sob o pseudônimo de George Orwell.
O livro tenta ilustrar como seria a vida num mundo de absoluto mal, no qual aqueles que controlam o governo se mantêm no poder por uso da força bruta, distorcendo a verdade, continuamente reescrevendo a história, hipnotizando o público em geral.
Este mundo mal se passa 35 anos no futuro, para que até homens de meia idade à época de sua publicação pudessem viver pra ver se viveram uma vida normal.
Eu, por exemplo, já era casado quando o livro saiu, e aqui estamos, a menos de 4 anos da data apocalíptica (já que “1984” se tornou um ano associado ao medo causado pelo livro de Orwell), e muito provavelmente viverei pra vê-lo.
Neste capítulo, discutirei o livro, mas, antes: Quem foi Blair/Orwell e por que ele escreveu este livro?
Blair nasceu em 1903, filho de uma casta de cavalheiros britânicos. Seu pai era um servidor civil nas Índias e o próprio Blair viveu a vida de um oficial do império britânico. Ele foi para Eton, serviu em Burma, enfim.
No entanto, lhe faltava dinheiro para viver plenamente como um cavalheiro inglês. Então, também, ele não queria passar a vida trabalhando em empregos burocráticos maçantes; ele queria ser escritor. Por último, ele sentia remorso por sua vida abastada.
Então ele fez, no fim dos anos 20, o que muitos jovens americanos ricos fizeram nos anos 60. Em resumo, se tornou o que mais tarde chamaríamos de hippie. Ele viveu em condições precárias em Londres e Paris, habitando e se identificando entre mendigos e andarilhos, conseguiu aliviar sua consciência e, ao mesmo tempo, reunir material para seus primeiros livros.
Ele também fez um giro à esquerda e se tornou um socialista, lutando com os republicanos na Espanha nos anos 30. Ali, ele se encontrou entre conflitos sectários de várias facções de esquerda, e como ele cria numa forma cavalheiresca de socialismo, inevitavelmente se encontrou no lado derrotado. Em oposição a ele estavam apaixonados anarquistas espanhóis, sindicalistas e comunistas, que se ressentiam amargamente do fato de que as necessidades de combater os fascistas de Franco, atrapalhava suas lutas entre si.
Os comunistas, os melhores organizados, venceram e Orwell teve de deixar a Espanha, pois tinha se convencido de que, se não o fizesse, seria morto.
Dali pra frente, até o fim da vida, ele se engajou numa guerra literária particular contra os comunistas, determinado a vencer nas palavras a batalha que havia perdido em ações.
Durante a 2ª Guerra Mundial, na qual foi rejeitado para o serviço militar, por suas associações à ala esquerda do partido trabalhista inglês, mas não era muito simpático de suas ideias, pois até a versão displicente de socialismo destes lhe parecia organizada demais.
Ele não parecia se afetar tanto, aparentemente, com o tipo nazista de totalitarismo, já que não lhe cabia outro inimigo exceto o comunismo stalinista contra quem travava uma guerra pessoal. Consequentemente, quando o Reino Unido lutava pela sua vida contra o Nazismo, e a URSS lutava como aliado na batalha e deu muito mais do que tinha de vidas entregues com coragem resoluta, Orwell escreveu A Revolução dos Bichos, uma sátira da Revolução Russa e suas consequências, representando em termos de uma revolta de animais da fazendo contra os senhores humanos.
Ele concluiu o livro em 1944 e teve dificuldades para encontrar uma editora, uma vez que não era um bom momento pra irritar os soviéticos. Assim que a guerra acabou, no entanto, a URSS já estava quites e o livro foi publicado. Foi recebido com muitos elogios e Orwell tornou-se próspero o suficiente para se aposentar e dedicar-se à sua obra-prima, 1984.
O livro descreve uma sociedade que em que todo o mundo é uma vasta extensão da Rússia Stalinista na década de 30, descrita com a virulência de um rival sectário de esquerda. Outras formas de totalitarismo mal aparecem. Há apenas duas menções aos Nazistas e à Inquisição. Logo de início, há uma referência ou duas aos judeus, quase como se fossem eles os alvos da perseguição, mas que logo somem, como se Orwell não quisesse que os leitores não confundissem os vilões com Nazistas.


A ilustração é do Stalinismo, e nada mais.
Quando o livro foi publicado em 1949, a Guerra Fria estava no seu pico. O livro, então, se popularizou. Era quase um dever patriótico no Ocidente, comprar e falar sobre ele e, talvez, até ler uns trechos, apesar de me parecer que mais gente comprou e falou sobre do que leu, pois esse é um livro terrivelmente tedioso — didático, repetitivo, e maçante.
A princípio ele foi mais popular entre pessoas de inclinações conservadoras, pois era claramente uma peça anti-Soviética, e a imagem da vida na Londres de 1984 que o livro projetava era muito parecida com a que os conservadores imaginavam ser a vida na Moscou de 1949.
Na era macartista dos EUA, 1984 se tornava cada vez mais popular entre aqueles mais liberais, pois lhes parecia que os EUA do início dos anos 50 se movia na direção do controle mental e que toda a malícia que Orwell descreveu batia à nossa porta.
Assim, num prefácio a uma edição publicada pela New American Library em 1961, o psicanalista liberal e filósofo Erich Fromm concluiu:
“‘Livros como o de Orwell são avisos potentes, e seria uma grande pena se o leitor pedantemente interpretasse 1984 como apenas mais uma descrição da barbárie Stalinista, sem ver que ele também se dirige a nós mesmos”.
Ainda que o Stalinismo e o Macartismo sejam desconsiderados, no entanto, cada vez mais estado-unidenses se davam conta do quão “grande” o governo havia se tornado; o quão alto eram os impostos; o quão crescente eram as regras e regulamentações sobre os negócios e a vida cotidiana; como informação a respeito de cada faceta da vida privada entrava nos arquivos, não apenas do governo mas também dos sistemas privados de crédito.
1984, portanto, veio a representar, não o Stalinismo, ou qualquer ditadura — mas governos em geral. Até o paternalismo governamental parecia com 1984 e a frase de efeito ‘Grande Irmão está te vigiando’ veio a significar tudo que fosse grande demais pro controle dos indivíduos. Não apenas grandes governos e grandes negócios eram um sintoma de 1984, mas a grande ciência, grande trabalho, grande qualquer coisa.
De fato, tão grande era a penetração da “1984-fobia” na consciência de muitos que nem leram o livro e não tinham noção alguma de seu conteúdo, que se poderia imaginar o que nos acontecerá após 31 de dezembro de 1984. Quando o ano novo de 1985 chegar e os EUA ainda existir e enfrentar os ainda muito reais problemas de hoje, como iremos expressar nossos medos de qualquer aspecto da vida que nos deixa apreensivos? Que nova data inventaremos pra substituir 1984?
Orwell não viveu pra ver seu livro se tornar o sucesso que se tornou. Não testemunhou a forma que fez de 1984 um ano que assombraria toda uma geração de americanos. Orwell morreu de tuberculose num hospital de Londres em janeiro de 1950, poucos meses após a publicação do livro, aos 46 anos. Sua consciência da morte iminente talvez tenha contribuído para o amargor do livro.


2. A ficção científica de 1984
Muitos veem 1984 como um romance de ficção científica, mas praticamente o único aspecto de 1984 que o caracterizaria assim é o fato de que ele se passa, propositadamente no futuro. E olhe lá! Orwell não tinha qualquer noção do futuro, e o deslocamento da história é muito mais geográfico do que temporal. A Londres em que se passa a história não é bem uma projeção 35 anos no futuro, de 1949 para 1984, mas de milhares de quilômetros ao leste até Moscou.
Orwell imagina um Reino Unido que passou por uma revolução similar à Russa e que passou por todos os estágios que o desenvolvimento soviético. Ele não consegue imaginar qualquer variação temática. Os soviéticos passaram por expurgos nos anos 30, então o Ingsoc (socialismo inglês) também passa por expurgos nos anos 50.
Os soviéticos converteram um de seus revolucionários, Leon Trotsky, num vilão, e o seu oponente, Joseph Stalin, num herói. O Ingsoc, então, converte um de seus revolucionários, Emmanuel Goldstein, em vilão, e o seu oponente, com um bigode igual o de Stalin, em herói. Não há qualquer habilidade de fazer, sequer, mudanças sutis. Goldstein, como Trotsky, tem um rosto judeu, com uma grande auréola de cabelos brancos e um cavanhaque. Orwell aparentemente não quis causar confusões dando um nome diferente a Stalin, então, o chama simplesmente de ‘Grande Irmão’.
No começo do livro, é deixado claro que a televisão (que foi inventada na época que o livro foi escrito) servia como um meio contínuo de doutrinação do povo, sem botão de desligar. E, aparentemente, numa Londres em ruínas onde nada funciona, essas televisões nunca pifam.
A grande contribuição de Orwell à tecnologia do futuro é que a televisão tem dupla-face, onde as pessoas que são forçadas a ouvir e ver a tela da TV podem ser ouvidas e vistas o tempo todo, estando sob constante supervisão até ao dormir ou ir ao banheiro. Por isso, o sentido da frase ‘O Grande Irmão está te vigiando’. Este é um sistema extraordinariamente ineficiente de vigilância do povo. Ter pessoas sendo assistidas o tempo todo implica que outras pessoas devem estar assistindo-as (ao menos na sociedade de Orwell) e deve fazê-lo de forma tão atenta, pois há um grande desenvolvimento na arte de interpretação de gestos e expressão facial.
Uma pessoa não pode assistir mais de uma pessoa com total concentração, e pode apenas fazê-lo por um curto período de tempo sem se distrair. Calculo que é preciso, pelo menos, cinco vigias por pessoa vigiada. E, então, é claro, os vigias têm de ser vigiados, uma vez que todos são suspeitos no mundo de Orwell. Consequentemente, o sistema de opressão da TV dupla-face simplesmente não funcionaria.
O próprio Orwell percebeu isso ao limitar seu funcionamento aos membros do partido. Os ‘proles’ (proletariado), por quem Orwell não consegue esconder seu desprezo de britânico de classe alta, são abandonados à própria sorte como sub-humanos. Em um certo ponto do livro, ele diz que qualquer prole que mostra habilidade é morto — uma folha tirada do tratamento dado pelos Espartanos aos seus hilotas, 2500 anos atrás.
Ademais, ele tem um sistema de espiões voluntários no qual crianças denunciam seus pais, e vizinhos denunciam uns aos outros. Isso é impraticável uma vez que eventualmente todos se denunciariam e todas as denúncias teriam de ser descartadas.
Orwell foi incapaz de conceber computadores ou robôs, ou ele teria posto todos sob vigilância de máquinas. Nossos próprios computadores já o fazem na Receita Federal, em alguma medida, os sistemas de crédito, etc, mas isso não nos levou à distopia de 1984, exceto em pesadelos febris. Computadores e tirania não necessariamente andam de mãos dadas. Tiranos foram bem-sucedidos sem computadores (um bom exemplo são os nazistas) e as nações mais informatizadas no mundo de hoje são as menos tirânicas.
Falta a Orwell a capacidade de ver (ou conceber) mudanças sutis. Seu protagonista encontra dificuldade no mundo de 1984 para encontrar cadarços ou giletes. Eu também teria, já que no mundo real da década de 80, muitas pessoas usam sapatênis e barbeadores elétricos.
Assim, também, Orwell demonstra uma fixação tecnofóbica que cada avanço tecnológico nos levaria à ruína. Por isso, quando seu protagonista escreve, ele “encaixou um bocal na sua caneta e o sugou para remover a tinta”. Ele o faz pois “sentia que a bela folha de papel merecia ser escrita com uma caneta de verdade e não ser rabiscada com uma caneta esferográfica”.
Presumivelmente, a “caneta esferográfica” era a nova caneta lançada à época em que Orwell escreveu 1984. Por isso Orwell descreve algo ser “escrito” com uma “caneta de verdade” mas “rabiscado” com uma esferográfica. Isto é, no entanto, precisamente o contrário da realidade. Se você é velho o suficiente para lembrar das canetas antigas, você lembra que elas borram o tempo todo, coisa que as esferográficas não fazem.


Isso não é ficção científica, é uma nostalgia torpe de um passado que nunca existiu. Me surpreende que Orwell não tenha largado a caneta tinteiro e escrito o livro com uma pena de ganso.
Orwell também não teve muito sucesso em prever aspectos estritamente sociais do futuro que apresentava, resultando num mundo Orwelliano em 1984 que é incrivelmente antiquado se comparado com o mundo real da década de 80.
Orwell não imagina novos vícios, por exemplo. Seus personagens são todos cachaceiros e tabagistas, e parte do horror de 1984 é sua eloquente descrição de como eram precários a cachaça e o fumo.
Ele não imagina novas drogas, nada de maconha, ou drogas alucinógenas. Ninguém espera que um escritor de ficção científica seja preciso e exato em suas previsões, mas certamente se espera que ele imagine algumas inovações.
Em seu desespero ou raiva, Orwell esquece que seres humanos têm virtudes. Todos seus personagens são, de alguma forma, fracos ou sádicos, desleixados, idiotas, ou repulsivos. Pode até ser como a maioria das pessoas seja, ou como Orwell quer insinuar que seriam sob um regime autoritário, mas me parece que, mesmo sob a pior das tiranias, até hoje, houve pessoas corajosas que enfrentaram os tiranos até a morte e cujas histórias de vida são chamas luminosas na escuridão que os cercou. Se apenas por não haver a menor presença disso em 1984, nada no livro reflete o mundo nos anos 80.
Ele também não imagina qualquer diferença no papel das mulheres ou o enfraquecimento dos estereótipos femininos de 1949. Só há duas personagens femininas importantes. Uma é uma mulher proletária bruta e ignorante que é uma lavadeira incansável, que canta sem parar canções populares de linguajar chulo dos anos 30 e 40 (que Orwell fastidiosamente despreza como “sujas”, sem qualquer noção do que viria a ser o hard rock).
A outra é a heroína, Julia, que é promíscua (mas pelo menos é impelida a atos de coragem por interesses sexuais) e também ignorante. Quando o protagonista, Winston, lê para ela o livro dentro do livro que explica a natureza do mundo Orwelliano, ela reage caindo no sono — mas como o tratado lido por Winston é estupefatamente soporífero, isso mais indica um bom senso da heroína Julia do que o contrário.
Em resumo, se 1984 for considerado uma ficção científica, é uma de péssima qualidade.


3. O GOVERNO EM 1984
O livro de Orwell é um retrato de um governo onipotente, e ajudou a consolidar a imagem de que um “governo forte” é algo a ser temido.
Temos que lembrar, porém, que o mundo do fim dos anos 40, em que Orwell escreveu o livro, era um em que houve, e ainda haviam, governos fortes com verdadeiros tiranos — indivíduos cujos desejos, por mais injustos, cruéis e vis que fossem, eram lei. Ainda mais, parecia impossível demover tais tiranos do poder a não ser pela intervenção de uma força externa.
Benito Mussolini na Itália, após 21 anos de poder absoluto, foi derrubado, mas apenas porque seu país estava sofrendo derrotas na guerra.
Adolf Hitler na Alemanha, um tirano ainda mais forte e brutal, governou com mão de ferro por 12 anos, e nem a derrota, por si só, o derrubou. Mesmo que território que dominava se tornasse cada vez menor, e mesmo que exércitos gigantescos de inimigos o encurralassem a leste e oeste, permaneceu governante absoluto sobre o que quer que restasse de território dominado — até mesmo quando esse território se reduziu ao bunker no qual cometeu suicídio. Até que ele tenha se matado, ninguém ousava atacá-lo. Houve complôs contra ele, é claro, mas nunca tiveram sucesso, às vezes por meio de caprichos do destino que só podiam ser explicadas por alguma força infernal conspirando a seu favor.
Orwell, no entanto, não deu a mínima para Mussolini ou Hitler. Seu inimigo era Stalin e, à época da publicação de 1984, Stálin governava a URSS num abraço apertado de urso há 25 anos, sobrevivido uma terrível guerra em que sua nação sofreu terríveis perdas e, ainda assim, estava mais forte do que nunca. Para Orwell, pareceu que nem o tempo nem a sorte poderiam derrubar Stálin, e que ele viveria eternamente, se tornando cada vez mais forte. — E foi assim que Orwell imaginou seu Grande Irmão.
É claro, não foi isso que aconteceu. Orwell não viveu para ver Stálin falecer 4 anos após a publicação do seu livro, e poucos anos depois denunciado como um tirano por — adivinhem só — os próprios líderes soviéticos.
A União Soviética ainda é a União Soviética, mas não mais a de Stálin, e os inimigos do Estado não são mais liquidados (Orwell prefere l termo “vaporizados”, tão pequenas sendo as mudanças que ele pode lidar) com tanta displicência.
Novamente, Mao Tsé-tung morreu na China, e ainda que ele não tenha sido abertamente denunciado, seus braços-direitos, a “Gangue dos Quatro”, foi rapidamente deposta da Divindade, e ainda que a China ainda seja a China, não é mais a China de Mao.
Franco, na Espanha, mesmo em seu leito de morte, permaneceu o mesmo líder inquestionável que foi por quase quarenta anos, mas imediatamente após sua morte, o fascismo se desmilinguiu na Espanha, assim como em Portugal após a morte de Salazar.
Em resumo, Grandes Irmãos morrem, ou pelo menos têm morrido até então, e quando morrem, o governo muda, sempre para algo menos fechado.
Não que novos tiranos não venham a surgir, mas estes morrerão, também. Ao menos na década de 80 real, temos plena confiança de que tiranos vem e vão e que um Grande Irmão imortal não é, ainda, uma ameaça real.
Na verdade, os governos da década de 80 parecem mesmos é perigosamente frágeis. O avanço da tecnologia trouxe poderosas armas — explosivos, metralhadoras, carros velozes, às mãos de terroristas urbanos, que podem e fazem sequestros, sabotagens, tiroteios, fazem reféns com impunidade enquanto governos assistem mais ou menos indefesos. Além da imortalidade do Grande Irmão, Orwell apresenta duas outras formas de manutenção da tirania eterna.
Em primeiro lugar, apresentar alguém ou algo a ser odiado. No mundo Orwelliano, era contra Emmanuel Goldstein que o ódio foi construído e orquestrado em uma função em massa e robotizada.
Nada de novo, claro. Toda nação do mundo usou países vizinhos como alvos de ódio. Esse tipo de artifício é tão facilmente manejado e facilmente assimilado pela humanidade que se pode imaginar porque teria de haver impulsos de ódio organizados no mundo de Orwell.
Não é preciso de muitos saltos lógicos para levar árabes a odiar israelenses e gregos odiarem turcos, e irlandeses católicos odiarem protestantes — e vice-versa. Pra se certificar, os nazistas organizaram reuniões em massa de delírio que todos participantes pareciam gostar, mas que não tem efeito de longo prazo. Uma vez que a guerra chegou ao solo alemão, os alemães renderam-se tão humildemente como se nunca tivessem feito a saudação nazista em suas vidas.
Em segundo lugar — reescrever a história. Quase todos dos poucos sujeitos que conhecemos em 1984 tem, como tarefa, a acelerada reescrita da história, o reajuste das estatísticas, a inspeção dos jornais — como se alguém fosse se dar ao trabalho de dar atenção ao passado, de qualquer maneira.
Esta preocupação orwelliana com tais minúcias da “comprovação histórica” é típica do política sectário que está sempre citando o que foi dito e feito no passado para provar para alguém de outro lado que está sempre citando algo no sentido oposto do que foi dito e feito.
Como todo político sabe, nenhuma evidência de qualquer tipo é jamais pedida. Basta fazer uma afirmação — qualquer uma — com força o suficiente para que um público acredite. Ninguém irá confrontar a mentira com fatos, e se o fazem, desacreditarão dos fatos. Você acha que o povo alemão em 1939 fingiram que os poloneses os atacaram e deram início à Segunda Guerra Mundial? Não! Desde que disseram que foi isso que aconteceu, eles acreditaram tão firmemente nisso, quanto eu e você acreditamos que eles atacaram os poloneses.
Para se certificar, os soviéticos publicaram novas edição de sua enciclopédia onde políticos que tinham um longo verbete biográfico em edições anteriores, de repente, são omitidos inteiramente e isso, sem dúvida, é o germe da noção orwelliana, mas as chances de levá-la ao extremo descrito em 1984 parecem-me nulas — não porque seria algo “além da maldade humana”, mas por ser totalmente desnecessário.
Orwell torna sua “novilíngua” num órgão de repressão — a conversão do idioma inglês num instrumento tão limitado e abreviado que o próprio vocabulário dos dissidentes desaparece. Em partes, ele toma tal noção do indiscutível hábito de abreviação. Ele dá exemplos como “Internacional Comunista” abreviado como “Comintern” e “Geheime Staatspolizei” (“polícia secreta do estado”) abreviado como Gestapo, mas isso não é uma invenção totalitária moderna. “Vulgus mobile” virou “mob” (máfia); “táxi cabriolet” virou “cab” (táxi); “quasi-stellar radio source” (“fonte de rádio quasi-estelar”) virou “quasar”; “light amplification by stimulated emission of radiation” (amplificação de luz por estimulação radioativa) virou “laser”, etc. Não há razão para achar que tais abreviações na linguagem tenha a enfraquecido como modo de expressão.
Na verdade, ofuscação política tendeu a ser mais verborrágica do que abreviada, usando mais palavras longas do que curtas, sendo mais prolixa do que sucinta. Todo líder de pouca educação ou limitada inteligência esconde tais fraquezas atrás de uma loquacidade inebriada e exuberante.
Assim, quando Winston Churchill sugeriu o desenvolvimento de um “inglês básico” como língua internacional (algo que, sem dúvida, também inspirou a “novilíngua”), a ideia foi abortada. Estamos, portanto, bem longe da “novilíngua” em sua forma mais condensada, embora sempre tenhamos tido uma “novilíngua” em sua forma extensa e sempre teremos.
Também temos um grupo dos nossos jovens que dizem coisas como “pode crer, mano, sacumé. É como se ele tivesse tudo ajeitado, sacumé, mano. Te digo, tipo, sacumé” e por aí vai cinco minutos de tagarelice, que poderiam ser resumidas em um simples “hã?”
Isto, no entanto, não é “novilíngua”, e temos convivido com ela desde sempre. Está mais pra algo que, na “velhíngua”, chamamos de “inarticulação”, mas não era o que Orwell pensava.


4. A SITUAÇÃO INTERNACIONAL DE 1984
Embora Orwell parecesse, em geral, estar preso no mundo de 1949, em um sentido pelo menos ele se mostrou bastante presciente, no caso, em prever a tripartição do mundo na década de 80.
O mundo internacional de 1984 é o mundo de três superpotências: Oceania, Eurásia e Ásia Leste — e isso se encaixa, vagamente, com as três superpotências do mundo real da década de 80: Estados Unidos, União Soviética e China.
A Oceania seria uma combinação dos EUA e o Império Britânico. Orwell, que era um velho servo civil do império, parece não ter notado que o Império Britânico estava em seus últimos suspiros, no fim da década de 40, e prestes a se dissolver. Ele parecia supor, aliás, que o Império Britânico era a potência dominante dessa relação britânico-americana.
Pelo menos, todo o enredo se passa em Londres e termos como “Estados Unidos” e “Americanos” são raramente, se alguma vez sequer, citados. Porém, isto tem muito a ver com a moda dos romances de espionagem britânicos onde, desde a segunda guerra mundial, o Reino Unido (atualmente a 18ª potência militar e econômica do mundo) é retratada como a grande adversária da URSS ou da China ou de uma imaginada conspiração internacional, com os EUA, ou nunca sequer mencionado, ou reduzido a uma mera participação coadjuvante na figura de um agente da CIA.
Eurásia é, evidentemente, a URSS, que, Orwell presume, terá tomado todo o continente europeu. Eurásia, portanto, inclui toda a Europa, a Sibéria, e a sua população é 95% europeia, por qualquer padrão. Mesmo assim, Orwell descreve os eurasianos como “homens de aparência pétrea, de rostos asiáticos sem expressão”. Como Orwell ainda vivia num tempo em que “europeu” e “asiático” eram equivalentes a “herói” e “vilão”, é impossível insultar a URSS com o devido grau de emoção, sem usar a palavra “asiático”. Isto vem sob o título do que a “novilíngua” orwelliana chama de “duplipensar”, algo que Orwell, como qualquer outro ser humano, é muito bom em fazer.
Pode ser, é claro, que Orwell não esteja pensando na Eurásia, ou na URSS, mas no seu grande bête noire (fera negra), Stálin. Stálin é georgiano, e a Geórgia, localizada ao sul das montanhas do Cáucaso, é, por mera consideração geográfica, parte da Ásia.
Ásia Leste é, obviamente, a China e demais nações dependentes.
Eis a presciência. Quando Orwell escreveu 1984, os comunistas chineses ainda não tinham conquistado o controle sobre o território nacional e muitos (nos EUA, em particular) faziam seu melhor para garantir que o anticomunista Chiang Kai-Shek, mantivesse o poder. Quando os comunistas venceram, se tornou parte do credo aceito no Ocidente de que os chineses estariam sob controle soviético e que China e URSS seriam uma potência comunista monolítica.
Orwell não apenas previu a vitória comunista (até porque previu esta vitória no mundo inteiro) mas também previu que Rússia e China não formariam tal bloco monolítico, mas que seriam inimigos mortais.
Aí, talvez, sua própria experiência como esquerdista sectário o ajudou. Ele não tinha quaisquer superstições direitistas a respeito da união dos esquerdista como vilões uniformes e indistintos. Ele sabia que estes lutariam entre si tão ferozmente, pelas questões mais triviais possíveis da sua doutrina, quanto os mais devotos dos cristãos.
Ele também previu um estado de guerra perpétua entre os três; uma condição permanente de impasse com alianças sempre mutáveis, mas sempre de dois contra o mais forte. Era o velho sistema de “equilíbrio de poder” usado na antiga Grécia, na Itália medieval e na nascente Europa moderna.
O erro de Orwell está em pensar que teria de haver uma guerra de fato para manter o carrossel do equilíbrio de poder girando. De fato, num dos momentos mais risíveis do livro, ele fala sem parar da necessidade de uma guerra permanente como forma de consumir a produção de recursos do mundo e, assim, manter a estratificação social de classes alta, média e baixa em funcionamento (Isto soa como uma explicação bastante esquerdista da guerra como resultado de uma conspiração arquitetada com bastante dificuldade).
Na verdade, as décadas desde 1945 tem sido notavelmente pacíficas, se comparadas com as décadas precedentes a ela. Há guerras locais com frequência, mas não guerra generalizada. No entanto, a guerra não é necessária como um mecanismo desesperado de consumo de recursos mundiais. Isto pode ser atingido por outros mecanismos como aumento infinito da população e consumo de energia, coisas que nem passam pela cabeça de Orwell.
Orwell não previu nenhuma das mudanças econômicas significativas que aconteceram desde a Segunda Guerra Mundial. Ele não previu a importância do petróleo e sua decrescente disponibilidade, seu crescente preço, ou a escalada de poder das nações que tem controle sobre sua produção. Ele sequer menciona a palavra “petróleo”.
Mas talvez seja suficiente para reconhecer a presciência de Orwell, aqui, se substituirmos “guerra fria” por “guerra”, simplesmente. Houve, de fato, uma “guerra fria” mais ou menos contínua que serviu para manter o emprego em alta e resolver alguns problemas econômicos de curto prazo (a custo de criar outros maiores no longo prazo). E tal guerra fria é suficiente para esgotar recursos.
Além disso, as alianças mudaram como previu Orwell e quase que de repente. Quando os EUA pareciam onipotentes, a URSS e China eram ferozmente anti-americanos e estavam numa espécie de aliança. Conforme o poder dos EUA declinava, a URSS e a China romperam e, por um tempo, cada uma das potências atacava as outras duas igualmente. Então, quando a URSS parecia se tornar particularmente poderosa, uma espécie da aliança nasceu entre os EUA e a China, com ambas nações cooperando na vilificação da URSS e a falar cordialmente entre si.
Em 1984, cada mudança de aliança envolvia uma orgia de reescrita da história. Na vida real, tal tolice é desnecessária. O público muda de lado com facilidade, aceitando a mudança da circunstância sem qualquer apreço pelo passado. Por exemplo, os japoneses, na década de 50, mudaram de vilões inomináveis para amigos, enquanto os chineses mudaram no sentido oposto, sem ninguém sequer pensar em tentar apagar a história do Pearl Harbour. Ninguém se importa, pelo amor de deus.
Orwell tem suas três superpotências voluntariamente renunciando de suas armas nucleares e, só para garantir, tais bombas nunca mais foram usadas em guerra desde 1945. Isto, no entanto, talvez seja o caso pois as únicas potências com grande arsenal nuclear, os EUA e a URSS tem evitado guerra entre si. Se tivesse havido guerra, é extremamente duvidoso que um dos dois lados não teria finalmente tido a necessidade de apertar o botão. A esse respeito, Orwell nunca esteve mais distante da realidade.
Londres eventualmente sofre, no entanto, um bombardeio, cuja descrição soa muito como as velhas armas V-1 ou V-2 de 1944, e seus escombros, muito como o restolho de 1945. Orwell não consegue diferenciar 1984 de 1944 nesse respeito.
Orwell, aliás, deixa claro que, até 1984, o comunismo universal das três superpotências sufocaram a ciência e a reduziram à inutilidade, exceto em áreas vitais à guerra. Não há questionamento do porquê, apenas as nações tem mais vontade de investir em ciência quando a guerra é a aplicação em vista, mas, infelizmente, não há distinção entre guerra e paz quando se trata da aplicação das tecnologias em questão.
A ciência é uma unidade e tudo nela pode, em tese, ser usado para guerra e destruição. A ciência, portanto, não foi sufocada pela guerra, mas continua seu progresso, seja nos EUA, Europa Ocidental, no Japão, seja na URSS ou na China. Os avanços científicos são incontáveis, mas pense nos lasers e computadores que são invenções guerra e verá um sem número de aplicações pacíficas dessas tecnologias.
Em resumo: George Orwell, em 1984, estava empenhado numa rixa pessoal com o Stalinismo, ao invés de tentar prever o futuro. Ele não tinha a aptidão de ficcionista científico para prever um futuro plausível e, na verdade, em quase tudo, o mundo de 1984, pouco tem a ver com o mundo real da década de 80.
O mundo pode se tornar comunista, senão em 1984, num futuro próximo; ou a civilização pode muito bem ser destruída. Se isto acontecer, no entanto, será de uma forma tão diferente da retratada em 1984 que, se tentarmos prevenir qualquer um dos dois resultados baseando-nos neste livro, estaremos nos defendendo dos ataques de forma equivocada e seremos derrotados.